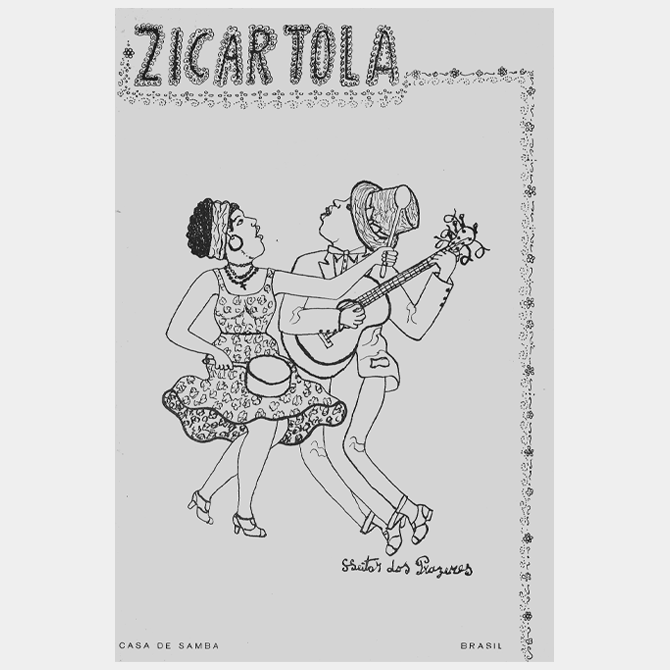Carta da autora à edição brasileira
Lancei este livro há precisamente dez anos, em Berlim, onde vivo ainda hoje. Naquela altura, tive a sorte ou o destino de ganhar uma das bolsas mais honrosas do governo alemão, para um doutoramento. Isto pouco depois de concluir os meus estudos em Lisboa, onde, ao longo de vários anos, em grande isolamento, fui a única estudante negra em todo o departamento de psicologia clínica e psicanálise. Nos hospitais onde trabalhei, durante e após os meus estudos, era comum ser confundida com a senhora da limpeza, e por vezes os pacientes recusavam-se a ser vistos por mim ou a entrar na mesma sala e ficar a sós comigo. Deixei Lisboa, a cidade onde nasci e cresci, com um imenso alívio.
Não havia nada mais urgente para mim do que sair, para poder aprender uma nova linguagem. Um novo vocabulário, no qual eu pudesse finalmente encontrar-me. No qual eu pudesse ser eu.
Cheguei a Berlim, onde a história colonial alemã e a ditadura imperial fascista também deixaram marcas inimagináveis. E, no entanto, pareceu-me haver uma pequena diferença: enquanto eu vinha de um lugar de negação, ou até mesmo de glorificação da história colonial, estava agora num outro lugar onde a história provocava culpa, ou até mesmo vergonha. Este percurso de consciencialização coletiva, que começa com negação – culpa – vergonha – reconhecimento – reparação, não é de forma alguma um percurso moral, mas um percurso de responsabilização. A responsabilidade de criar novas configurações de poder e de conhecimento.
Essa pequena mas grande diferença era com certeza a razão pela qual fui encontrar em Berlim uma forte corrente de intelectuais negras que haviam transformado radicalmente o pensamento e o vocabulário contemporâneo global, durante várias décadas. Esta era a cidade onde Audre Lorde vivera durante os seus últimos anos; onde Angela Davis aparecia em público regularmente; e onde May Ayim escrevera seus livros e poemas, sem esquecer W.E.B. du Bois, que estudou e ensinou em Berlim, nos anos de 1890. E assim comecei o meu doutoramento, rodeada de espíritos benévolos e transformadores, que deixaram uma riqueza linguística e uma marca intelectual negra, que eu consumia entusiasticamente.
Escrevi este livro em inglês, dia e noite, enquanto vivia sozinha em Berlim, absorvida em livros que nunca tinha visto ou lido antes, acompanhada por uma série de grupos organizados de mulheres negras, feministas e LGBTTQIA+ que revelavam uma politização absolutamente admirável. Parece-me que nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Foi nessa altura que passei a dar aulas em duas universidades simultaneamente, na Universidade Humboldt e na Universidade Livre, com os meus primeiros seminários dedicados às obras de bell hooks e Frantz Fanon – uma trajetória que me parecia impensável, tanto em Lisboa como em São Paulo, Luanda ou Salvador da Bahia, para uma jovem mulher negra, que sempre viveu no anonimato.
Plantation Memories é precisamente o meu doutoramento. Terminei-o com a mais alta (e rara) distinção acadêmica, a summa cum laude. E escrevo isto não necessariamente por vaidade, mas muito mais para lembrar da importância de um percurso de consciencialização coletiva – pois uma sociedade que vive na negação, ou até mesmo na glorificação da história colonial, não permite que novas linguagens sejam criadas. Nem permite que seja a responsabilização, e não a moral, a criar novas configurações de poder e de conhecimento. Só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas identidades marginalizadas podem também, finalmente, reconfigurar a noção de conhecimento: Quem sabe? Quem pode saber? Saber o quê? E o saber de quem? Para mim, como disse, não havia nada mais urgente do que sair, para poder aprender uma nova linguagem. Um novo vocabulário, no qual eu pudesse finalmente encontrar-me. No qual eu pudesse ser eu. E foi neste livro que encontrei a minha primeira e nova linguagem.
O livro foi lançado no Festival Internacional de Literatura, em Berlim, no final de 2008, e a partir daí começou um itinerário de vários anos que eu nunca imaginaria: Londres, Oslo, Viena, Amsterdam, Bruxelas, Roma e Estocolmo, passando por Acra, Lagos, Joanesburgo, São Paulo e Salvador, entre muitas outras cidades. Foram precisos dez anos para chegar a Portugal e ao Brasil (onde é publicado simultaneamente) e à sua tradução na língua portuguesa. Foi um caminho longo. E, no entanto, eu sei que não poderia ter chegado antes – nem este nem tantos outros livros –, pois os comuns gloriosos e românticos discursos do passado colonial, com os seus fortes acentos patriarcais, não o permitiram. Mas chega bem a tempo.
Este livro é muito pessoal; escrevi-o para entender quem eu sou. E sinto-me profundamente feliz, grata, confesso até extasiada, quando penso nas tantas pessoas que finalmente o podem ler, numa língua (e linguagem) na qual se podem também entender e encontrar.
Escrevo esta Introdução, inexistente na versão original inglesa, precisamente por causa da língua: por um lado, porque me parece obrigatório esclarecer o significado de uma série de terminologias que, quando escritas em português, revelam uma profunda falta de reflexão e teorização da história e herança coloniais e patriarcais, tão presentes na língua portuguesa; por outro lado, porque tenho de dizer que esta tradução é maravilhosamente elaborada, pois traduz um livro inteiro apesar da ausência de termos que noutras línguas, como a inglesa ou alemã, já foram criticamente desmontados ou mesmo reinventados num novo vocabulário, mas que na língua portuguesa continuam ancorados a um discurso colonial e patriarcal, tornando-se extremamente problemáticos. Assim, as notas de rodapé que comecei por escrever para a versão portuguesa, por revelarem o meu posicionamento como autora e por ajudarem à leitura e à reflexão da própria língua portuguesa, acabaram por ser introduzidas no próprio texto – e explicadas no glossário que se segue, por ordem cronológica de ocorrência.
Não posso deixar de escrever um último parágrafo, para lembrar que a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade. No fundo, através das suas terminologias, a língua informa-nos constantemente de quem é normal e de quem é que pode representar a verdadeira condição humana.
sujeito
No original inglês, o termo subject não tem gênero. No entanto, a sua tradução corrente em português é reduzida ao gênero masculino – o sujeito –, sem permitir variações no gênero feminino – a sujeita – ou nos vários gêneros LGBTTQIA+ – xs sujeitxs –, que seriam identificadas como erros ortográficos. É importante compreender o que significa uma identidade não existir na sua própria língua, escrita ou falada, ou ser identificada como um erro. Isto revela a problemática das relações de poder e violência na língua portuguesa, e a urgência de se encontrarem novas terminologias. Por esta razão, opto por escrever este termo em itálico: sujeito.
objeto
Object, assim como subject, é um termo que não tem gênero na língua inglesa. No entanto, a sua tradução corrente em português é também reduzida ao gênero masculino – o objeto –, sem permitir variações no gênero feminino – a objecta – ou nos vários gêneros LGBTTQIA+ – xs objetxs –, expondo, mais uma vez, a problemática das relações de poder e violência na língua portuguesa, e a urgência de se encontrarem novas terminologias. Além disso, parece-me importante lembrar que o termo object vem do discurso pós-colonial, sendo também usado nos discursos feministas e queer para expor a objetificação dessas identidades numa relação de poder. Isto é, identidades que são retiradas da sua subjetividade e reduzidas a uma existência de objeto, que é descrito e representado pelo dominante. Reduzir o termo à sua forma masculina revela uma dupla dimensão de poder e violência. Por ambas as razões, opto por escrever este termo em itálico: objeto.
“Outra/o”
Other é um termo neutro em inglês, ausente de gênero. A sua tradução em português permite variar entre dois gêneros – a/o outra/o. Embora seja parcialmente satisfatório, pois inclui o gênero feminino e põe-no em primeiro lugar, não deixa de o reduzir à dicotomia feminino/masculino, menina/menino, não permitindo estendê-lo a vários gêneros LGBTTQIA+ – xs Outrxs –, expondo, mais uma vez, a problemática das relações de poder e a violência na língua portuguesa. Por estas razões, opto por escrever o termo em itálico e entre aspas: “Outra/o”.
negra/o
Black, em inglês, é um termo que deriva do movimento de consciencialização, para se distanciar radicalmente das terminologias coloniais correntes até os anos 1960, como the Negro ou N-word. Comumente, este termo é escrito com um B maiúsculo, Black, para sublinhar o fato de que não se trata de uma cor, mas de uma identidade política. A letra maiúscula também tem uma segunda função, a de revelar que este não é um termo atribuído por outros em poder, mas um termo de autodefinição, com uma história de resistência e de luta pela igualdade, afastando-se assim duplamente da nomenclatura colonial.
Este trabalho de desconstrução linguística foi também feito na língua alemã em inúmeras publicações desde os anos 1980, em que N. é abreviado, a fim de não reproduzir uma linguagem colonial, e Schwarz (Black, em inglês) é escrito com letra maiúscula para revelar o seu estatuto de autodefinição. Em português, no entanto, deparamos com um imenso dilema teórico, pois o termo Black é traduzido para negra/o, e embora este seja usado como um termo político na língua portuguesa, está invariavelmente ancorado na terminologia colonial e, por isso, intimamente ligado a uma história de violência e desumanização.
Como poderão ler no Capítulo 9, este termo deriva da palavra latina para a cor preta, niger. Mas, logo após o início da expansão marítima (na língua portuguesa ainda vulgarmente chamada de “Descobrimentos” – ora, não se descobre um continente onde vivem milhões de pessoas), a palavra passou a ser um termo usado nas relações de poder entre a Europa e a África e aplicada aos Africanos para definir o seu lugar de subordinação e inferioridade. Em português, no entanto, essa diferenciação parece não ter sido feita, pois, embora esteja intimamente ligado à história colonial, negra/o tem sido usado como o único termo “correto”. Para problematizar esse termo de origem colonial, opto por escrevê-lo em itálico e em letra minúscula: negra/o.
p.
Por outro lado, em inglês e alemão usam-se as abreviaturas N-word e N., respectivamente, a fim de não se reproduzir a violência e o trauma que a palavra implica. Esse termo é traduzido para a língua portuguesa por p. (preta/o), que é historicamente o mais comum e violento termo de insulto dirigido a uma pessoa. Tragicamente, na língua portuguesa, o termo p. é usado arbitrariamente no dia a dia: ora como insulto direto, ora como forma indireta de inferiorização e objetificação – as/os p. Mas o termo, mais do que isso, está intimamente ligado à história das políticas de insulto e ao racismo diário na língua portuguesa. Por essas razões, para me afastar dessa terminologia racista, assim como para não reproduzir a imensa violência e o trauma que o termo envolve, opto por escrevê-lo em itálico, abreviado e em letra minúscula: p.
No texto a utilização das abreviaturas N. e M. em letra maiúscula é deliberada sempre que se trata de citar as mulheres entrevistadas e de analisar as entrevistas, pois trata-se de um trabalho de desmontagem da língua colonial, que ao mesmo tempo representa resistência. A abreviatura p. é utilizada quando cito textos de outros autores.
(mestiça/o), m. (mulata/o), c. (cabrita/o)
Na língua portuguesa, nos deparamos quase com a ausência de um termo que não esteja nem ancorado à terminologia colonial (negra/o) nem à linguagem racista comum (p.) ou a uma nomenclatura animal. Quanto a esta, confrontamo-nos com uma longa lista de termos, frequentemente usados ainda hoje na língua portuguesa, que têm a função de afirmar a inferioridade de uma identidade através da condição animal. São termos que foram criados durante os projetos europeus de escravatura e colonização, intimamente ligados às suas políticas de controle da reprodução e proibição do “cruzamento de raças”, reduzindo as “novas identidades” a uma nomenclatura animal, isto é, à condição de animal irracional, impuro.
Estes termos de nomenclatura animal foram altamente romantizados durante o período de colonização, em particular na língua portuguesa, onde são ainda usados com um certo orgulho. Esta romantização é uma forma comum da narrativa colonial, que transforma as relações de poder e abuso sexual, muitas vezes praticadas contra a mulher negra, em gloriosas conquistas sexuais, que resultam num novo corpo exótico, e ainda mais desejável. Além disso, esses termos criam uma hierarquização dentro da negritude, que serve à construção da branquitude como a condição humana ideal – acima dos seres animalizados, impuras formas da humanidade. Os termos mais comuns são: m. (mestiça/o), palavra que tem sua origem na reprodução canina, para definir o cruzamento de duas raças diferentes, que dá origem a uma cadela ou um cão rafeira/o, isto é, um animal considerado impuro e inferior; m. (mulata/o), palavra originalmente usada para definir o cruzamento entre um cavalo e uma mula, isto é, entre duas espécies animais diferentes, que dá origem a um terceiro animal, considerado impuro e inferior; c. (cabrita/o), palavra comumente usada para definir as pessoas de pele mais clara, quase próximas da branquitude, sublinhando porém a sua negritude, e definindo-as como animais.
O que é particular a toda essa terminologia é o fato de estar ancorada num histórico colonial de atribuição de uma identidade à condição animal. Por essas razões, opto por escre-vê-la em itálico e abreviada: m., m., c.
escravizada/o
Na minha escrita, uso o termo “escravizada/o”, e não escrava/o, porque “escravizada/o” descreve um processo político ativo de desumanização, enquanto escrava/o descreve o estado de desumanização como a identidade natural das pessoas que foram escravizadas. No entanto, o termo aparece por vezes de forma figurativa; nesses casos, opto por escrevê-lo em itálico: escrava/o.
subalterna
O termo inglês subaltern não tem gênero. No entanto, o título do importante trabalho de Gayatri C. Spivak, Can the Subaltern Speak?, é comumente traduzido na língua portuguesa para Pode o subalterno falar?, adotando o gênero masculino. Tendo em conta que Spivak é uma mulher, teórica, filósofa e crítica de gênero da Índia que tem feito uma das contribuições mais importantes para o pensamento global, revolucionado os movimentos feministas com a sua escrita. A redução do seu mais importante termo, Subaltern, ao gênero masculino na língua portuguesa é duplamente problemática. Por isso, opto por screver o termo na sua forma feminina: subalterna.
Parece-me que não há nada mais urgente do que começarmos a criar uma nova linguagem. Um vocabulário no qual nos possamos todas/xs/os encontrar, na condição humana.
Com um abraço,
Grada Kilomba
Berlim, 23 de janeiro de 2019
*Carta da autora à edição brasileira



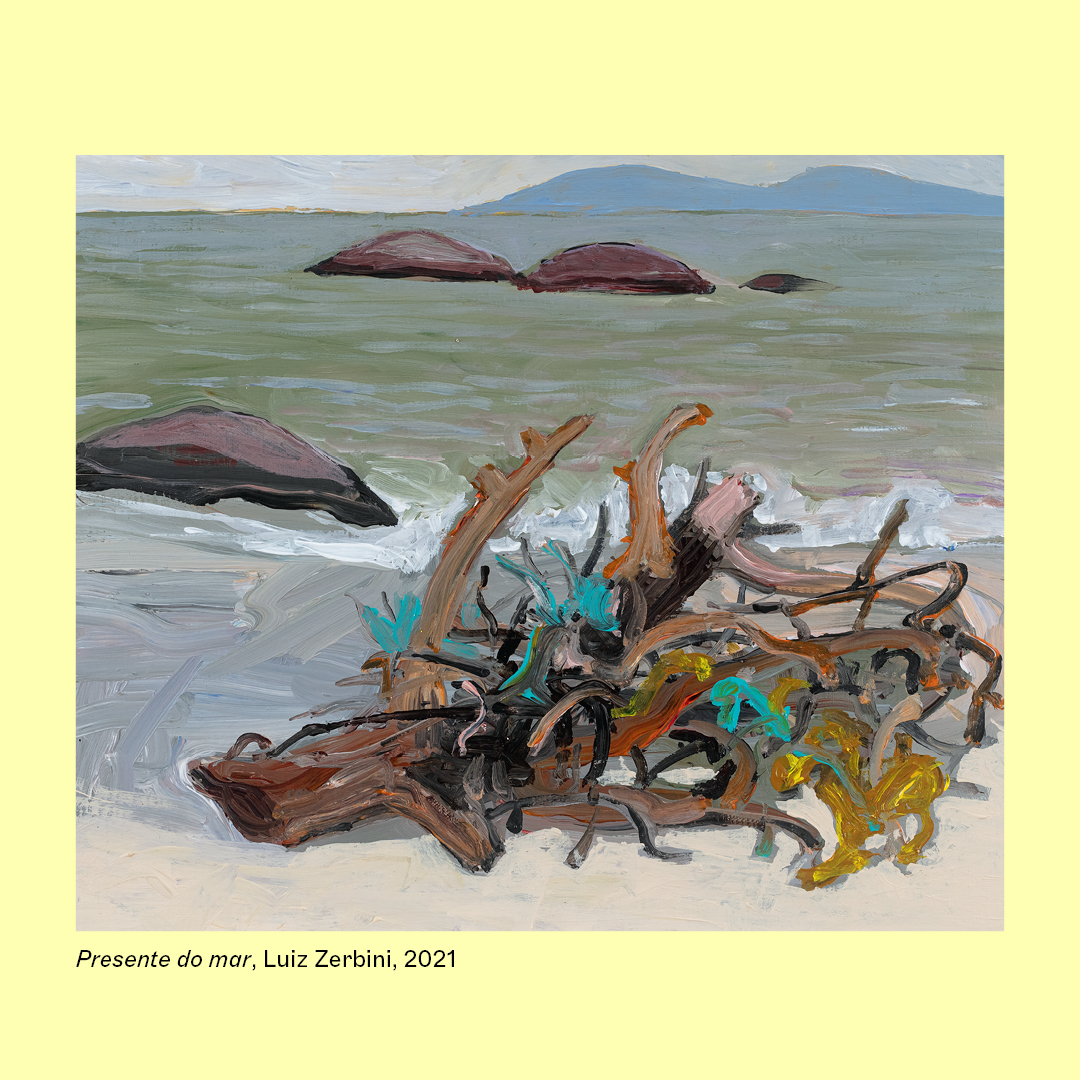
!['Museu Nacional [Todas as vozes do fogo]' por Rita von Hunty](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/vnda-cockpit/www-cobogo-com-br/2024/01/12/65a1764a763c5IMG_3322.JPG)